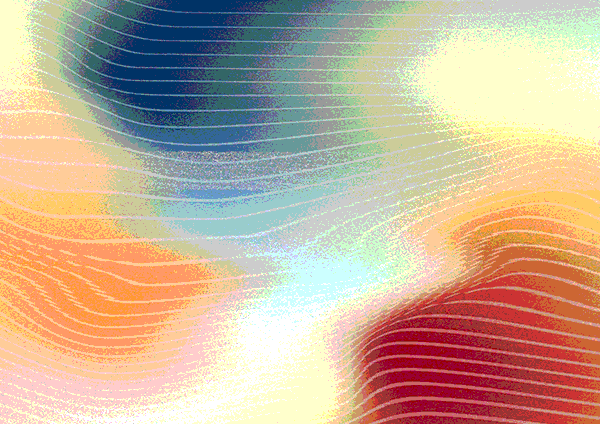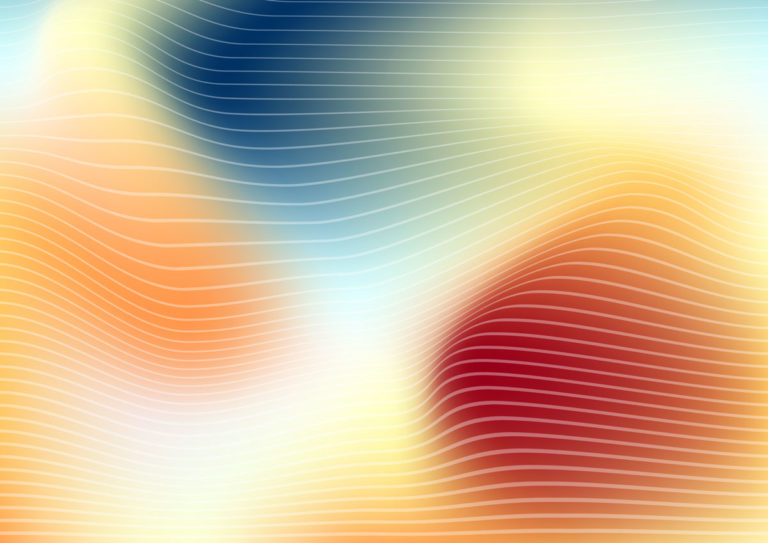O percurso da história revela como foram elas quem ergueram a indústria têxtil no Brasil e no mundo 1 no ano de 1838, o trabalho feminino branco e infantil representava 77% da mão de obra nas indústrias têxteis, na Inglaterra. No Brasil, mesmo com a industrialização “tardia”, a força de trabalho feminina branca correspondia a 62% em São Paulo (SP) no ano de 1894, conforme o artigo “O trabalho feminino durante a revolução industrial” e assim construíram as lutas operárias com suas mobilizações por condições mais justas de trabalho e contra as opressões de gênero e raça – até os dias atuais.
O pioneirismo da industrialização têxtil só foi possível por conta do trabalho feminino, marcado (para as mulheres brancas) pelo sexismo e exploração de forma imaterial e material e pelo regime colonial (para as mulheres negras), que escravizou pessoas africanas e afroamericanas em campos de algodão, por todo o Brasil e Estados Unidos, e proveu o insumo para as grandes tecelagens do período. 2 Informações encontradas em obras como “Escravidão e capitalismo histórico no século XIX: Cuba, Brasil e Estados Unidos” e “A Segunda Escravidão e a Primeira República Americana”As condições precárias fizeram eclodir uma das greves mais importantes do Brasil, em 1917. Organizada por homens e mulheres da indústria têxtil Cotonifício Crespi, na Mooca, em São Paulo, ela durou quase 30 dias e aproximadamente 400 operárias paralisaram suas atividades e exigiram aumentos de salários e redução de jornada. 3 Biondi, L. (2012). A greve geral de 1917 em São Paulo e a imigração italiana: novas perspectivas. Cadernos AEL, 15(27). .
Décadas depois, a realidade acompanha o percurso da história: mulheres representam 75% da mão de obra do têxtil e vestuário no Brasil, conforme a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis (ABIT), e 80% no mundo. O país é um dos cinco maiores produtores de algodão e jeans do planeta e produziu, só em 2019, 9,04 bilhões de peças com a força de trabalho de 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras (ABIT).
No que diz respeito aos empregos formais na indústria, que somam 1,6 milhões no país, o relatório da Associação Brasileira das Indústrias Têxteis (ABIT) mostra que Sudeste e Sul lideram as ocupações com 49,3% e 29,5%, respectivamente, seguidos do Nordeste com 17,3%. Os destaques são para as regiões do Vale do Itajaí, em Santa Catarina (Blumenau, Itajaí, Jaraguá do Sul e Brusque), Agreste Pernambucano (Toritama, Santa Cruz do Cariparibe e Caruaru) e São Paulo capital. Dentre as 33 mil empresas formais do setor, 75% são do segmento de confecção, conforme o mesmo relatório.
Como se organizam tantos trabalhadores: a sindicalização brasileira na indústria da moda
O Brasil tem um histórico de sindicalização e mobilizações trabalhistas que ultrapassa cem anos e se firmou com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Legislada em 1943, no governo de Getúlio Vargas, o documento garante direitos trabalhistas fundamentais, como uma base salarial, férias e limite de carga horária. Hoje, o país tem mais de 17 mil sindicatos ativos, sendo a maioria de empregados. A taxa de sindicalização foi de 12,2% em 2019 e a soma do arrecadado, só em 2017, foi de R$ 3,54 bilhões.
Mario Henrique Ladosky, doutor em sociologia e professor na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Paraíba, explica que “os sindicatos representam os trabalhadores de categorias profissionais aceitas nas leis, por isso no ramo do vestuário você tem sindicato de trabalhadores do têxtil, vestuário, calçado e confecção”. Já as centrais sindicais têm maior abrangência e representam um conjunto da classe, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e se organizam pelo ramo da atividade. O número de filiados da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário (CNTRV-CUT), por exemplo, chegava a 35% nas entidades – número antes da pandemia, segundo sua presidenta, Cida Trajano. Atualmente fazem parte da confederação 69 sindicatos e 9 federações.
Segundo a CLT, no art. 513a, uma das prerrogativa do sindicato é “representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida” e “impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas”; entre as obrigações, consiste ao sindicato “colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; manter serviços de assistência judiciária para os associados; promover a conciliação nos dissídios de trabalho”, e outras, conforme art. 514.
A presidenta destaca que a indústria têxtil no Brasil tem “uma história bastante lucrativa para os donos do meio de produção, mas sempre com uma cultura de salário baixo e péssimas condições [para os trabalhadores]”. Sendo uma classe majoritária de mulheres, são elas que mais sofreram e foram invisibilizadas na luta sindical. “A primeira grande indústria do mundo capitalista foi a têxtil, e as primeiras greves foram da indústria têxtil, que tem uma concentração grande de mulheres, mas os movimentos sindicais nunca deram esse destaque para a [sua] participação”, destaca Ladosky.
Como aglutinar trabalhadoras tão espalhadas?
A informalidade acometia 38 milhões de brasileiros até 2019, conforme o IBGE, e com a pandemia esses trabalhadores foram muito afetados: a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que o primeiro mês da crise resultou em uma queda de 60% na renda de trabalhadoras(es) informais globalmente. Eles são a maioria (80%) na indústria têxtil e do vestuário no Brasil (ABIT) e encontram dificuldade para se sindicalizar: os microempreendedores individuais (MEI), por exemplo, só tem essa possibilidade se houver essa previsão no estatuto do sindicato, explica Ladosky.
A primeira grande indústria do mundo capitalista foi a têxtil, e as primeiras greves foram da indústria têxtil, que tem uma concentração grande de mulheres, mas os movimentos sindicais nunca deram esse destaque para a (sua) participação.
A crescente do trabalho informal e terceirizado veio com o advento da globalização e mudanças na forma do Estado, ancoradas no neoliberalismo, que instituiu outras formas de trabalho para além do Taylorismo e Fordismo 4 sistemas de trabalho baseados na divisão e otimização dos processos e produção em massa do século passado. Virginia Vasconselos, pesquisadora e doutoranda em ciências sociais na UFCG, elucida que “a globalização parte como base que precisamos produzir em larga escala, com eficiência produtiva, e, então, surgem as novas formas [de trabalho] pautadas na terceirização e descentralização”.
A região do Agreste Pernambucano é um exemplo onde predomina essa modalidade. Importante pólo que produz quase 20% de todo o jeans brasileiro, nas cidades houve um aumento de 989,75% registros de microempreendedores individuais entre 2010 e 2017, conforme relatório da Aliança Empreendedora. Vasconselos aponta que maioria é “MEI por necessidade, para poder gerar renda, já que não há empregos adequados; não necessariamente empreendem por conhecimento ou por gostar, mas é para sobreviver”.
A pesquisadora destaca que é um fenômeno interessante da região, pois mostra como as pessoas não precisam necessariamente do Estado para otimizar a economia, mas reconhece como essa modalidade enfraquece as condições dignas de trabalho: “o MEI é uma pequena empresa e com esse formato ele garante alguma proteção mínima, como auxílio doença e contribuição, coisa que o trabalho informal autônomo não concede, mas as condições de trabalho continuam iguais, precárias”.
A costureira Cida Anjos já trabalhou em grandes fábricas da região, mas preferiu deixar a CLT e ter seu próprio negócio. “A gente trabalha muito, de maneira informal, sem nenhuma segurança trabalhista; se você adoecer não tem garantia, não tem décimo terceiro, férias”, conta. Costurando há mais de 20 anos, sua motivação para mudar de condição foi perceber “que estava sendo oprimida e estava oprimindo outras mulheres” quando trabalhou como gerente de uma grande fábrica da região. “Pensei em como eu poderia me organizar para ajudar outras a saírem desse momento que eu vivi”, relata Anjos.
O MEI é uma pequena empresa e com esse formato ele garante alguma proteção mínima, como auxílio doença e contribuição, coisa que o trabalho informal autônomo não concede, mas as condições de trabalho continuam iguais, precárias.
Virginia Vasconselos
Quando o tempo se restringe apenas em trabalhar para ter o que comer e pagar contas, é desafiador se organizar coletivamente. A dificuldade vem por conta da incompreensão sobre a condição de exploração e também pela inexistência de plataformas de comunicação efetivas para esse contato entre trabalhadoras. Vasconselos explica que “não existe um espaço de debate coletivo, um mecanismo de comunicação que coloque elas em contato para falarem sobre suas demandas e lutar por seus direitos; elas sequer conhecem seus direitos”.
Há também uma ausência do Estado nessa dinâmica que omite sua responsabilidade perante as demandas da classe trabalhadora. “A força trabalhista é da mulher, mas a cidade nunca teve uma audiência pública com as costureiras”, desabafa Anjos. As políticas públicas da prefeitura [de Santa Cruz do Capibaribe] e da federação são mais voltadas para o aspecto mercadológico, com fomento do comércio e produtividade, e não necessariamente para a proteção e amparo trabalhista.
Nos sindicatos, Trajano conta que um debate na alteração dos estatutos, permitindo a sindicalização dos informais, foi iniciado há pouco mais de três anos: “em primeiro momento os sindicatos fizeram alteração estatutária e hoje mais de 90% dos nossos [os filiados a CNTRV-CUT] sindicatos dão abertura”. Reconhecendo que as ações ainda são tímidas, a presidenta também destaca o problema dos “MEI que têm funcionários, mas exercem todo o trabalho na produção” e ganham tão pouco quanto eles. Ela acredita na responsabilização das marcas contratantes para garantir a estes trabalhadores condições dignas.
Como o trabalho na indústria da moda não se dissocia do trabalho de mulheres, que tampouco se dissocia do trabalho doméstico não remunerado, é um desafio e uma urgência pensar em uma mobilização e sindicatos que contemplem esses desdobramentos. Para Ladosky, “pode ser que [as mulheres que já cuidam do lar] não tenham tempo para essas mobilizações, então tem que ser algo que faça sentido para deixar seu momento de trabalho. Ter espaço para crianças no sindicato, por exemplo. Tem que pensar em outras formas de ação para esse contingente que é enorme”.

Para além da sindicalização
Os sindicatos têm sua importância, mas existem outras formas de mobilização. Um exemplo é a ação que Vasconselos e Anjos iniciaram no bairro Palestina, região periférica de Santa Cruz do Capibaribe. “Comecei a perceber e fui estudando sobre como poderíamos nos organizar como costureiras e trabalhadoras”, conta a última. O estopim foi o início da pandemia, que impactou duramente as costureiras informais da região sem novos pedidos e sem renda. “Eu vi um empresário da cidade chegar com seu carrão para pagar dez centavos por máscara”, compartilha Anjos.
A trabalhadora pode negar esse tipo de trabalho, mas via suas vizinhas sendo obrigadas a aceitar. Tal indignação a motivou a criar, junto de outras, um coletivo de 25 mulheres que se reúne mensalmente desde junho para investir na economia solidária e discutir o papel da mulher na sociedade, a partir de uma perspectiva econômica feminista. “Foi uma rede de apoio, com contatos entre costureiras que tinham acesso à produção e passavam para outras costureiras que precisavam de trabalho”, explica Vasconselos. Mesmo longe por conta do isolamento social, elas mantiveram a união. Anjos acredita que “a partir desse trabalho, a gente desperta nas mulheres essa reflexão e faz elas perceberem que se estiverem juntas e organizadas, podem conseguir mais”.
As demandas trabalhistas sempre vêm acompanhadas de outras pautas: moradia, educação, saúde, raça, gênero, etc. “A questão do trabalho é e deve ser um fator de mobilização, mas não sozinho”, destaca Ladosky. Mesmo sendo um grande desafio articular agendas, o professor reforça que isso “amplia as possibilidades das pessoas quererem se juntar nessas organizações”.
Outro exemplo são as mobilizações no continente Asiático – que concentra 75% da mão de obra da indústria da moda, conforme a OIT. Em abril de 2020, trabalhadores e organizações sociais iniciaram a campanha #PayUp: uma petição online para pressionar grandes marcas (como C&A, Adidas, Nike, Zara, etc.), que haviam cancelados pedidos em meio a pandemia, a honrarem seus contratos e pagarem seus fornecedores. Com resultados efetivos e mobilização mundial, a campanha desdobrou-se no movimento PayUp Fashion, que busca reformas para a indústria da moda.
Futuros possíveis e necessários: dos sindicatos, do trabalho e das mobilizações
Para Ladosky, “o trabalho tende a ser mais disperso e fragmentado”. Sobretudo na questão industrial, muita coisa se desenha para mudar com as inovações tecnológicas, indústria 4.0 e inteligência artificial; a indústria da moda é uma das pioneiras de tais promessas. Porém, o professor alerta para uma realidade complexa, mediante estimativas apontando que 52,1 milhões de postos de trabalho podem ser substituídos por máquinas nos próximos 10 a 20 anos, no Brasil (IDados). “As pessoas irão continuar existindo. Precisamos compreender que o trabalho não será só esse futuro maravilhoso, ao mesmo tempo que a precarização e exclusão serão uma realidade”, reforça.
Nos sindicatos, os próximos passos exigem muito planejamento estratégico e formação sindical por parte dos dirigentes. “A gente sabe que o que era antes não será mais no futuro; […] precisamos dialogar muito e entender essas mudanças”, diz Trajano. O desafio é acompanhar o formato de trabalho informal e fragmentado e abarcar as pautas dos trabalhadores também fora das fábricas e da CLT. “Qual a chave para motivar quem é MEI, informal, terceirizado a ir pro sindicato? Não é a representação frente ao patronal que vai. É preciso descobrir como chegar nesse novo trabalhador, porque aquele ‘CELETista’ tende a ser cada vez menor, e assim o sindicato ser menor também”, questiona Ladosky. Para ele, “o sindicato tem que se reinventar e encontrar formas diferentes de fazer sindicalismo”.
Em abril de 2020, trabalhadores e organizações sociais iniciaram a campanha #PayUp: uma petição online para pressionar grandes marcas, que haviam cancelados pedidos em meio a pandemia, a honrarem seus contratos e pagarem seus fornecedores. Com resultados efetivos e mobilização mundial, a campanha desdobrou-se no movimento PayUp Fashion, que busca reformas para a indústria da moda.
Uma movimentação já vem acontecendo. Durante a pandemia, os sindicatos que normalmente dialogavam com os trabalhadores só na porta das fábricas incluíram as plataformas digitais, como o WhatsApp. Trajano conta que nos espaços online a discussão foi sobre campanha salarial, volta às fábricas com os cuidados sanitários e negociações patronais; também foi possível realizar a filiação através das ferramentas online. Outra ação foi a criação da IndustriALL Brasil, que objetiva discutir com profundidade a questão industrial no país.
Todas essas mudanças “demandam a entrada de outros atores, de organizações do terceiro setor, do setor público, associações e uma construção coletiva que demanda mecanismos de comunicação entre os trabalhadores, usando das redes sociais e internet”, aponta Vasconcelos. Pensar em múltiplas soluções para problemas múltiplos é importante e nesse jogo é possível aproveitar as contradições do próprio sistema. Ladosky aconselha: “o capitalismo, por mais monolítico que pareça, sempre tem fissuras, contradições; então tem que explorar essas contradições”.
Já Anjos acredita que o caminho é conseguir estabelecer uma dinâmica de trabalho sem exploração, que permita o desenvolvimento saudável de cada mulher envolvida. A costureira elenca como missão descobrir como podem ter uma economia solidária e outras fontes de renda, fora dos preços tão baixos, e reitera: “só nos organizando enquanto trabalhadoras a gente pode mudar essa estrutura”.