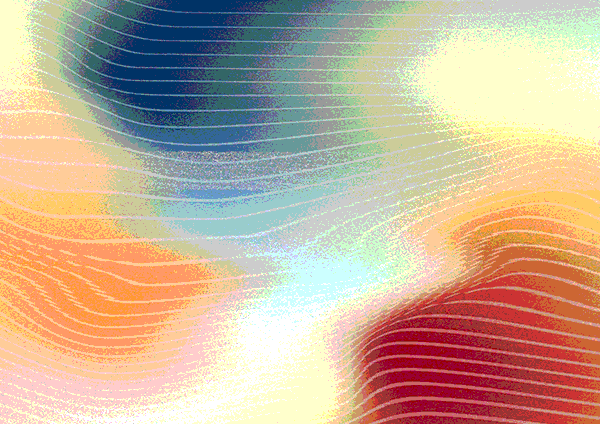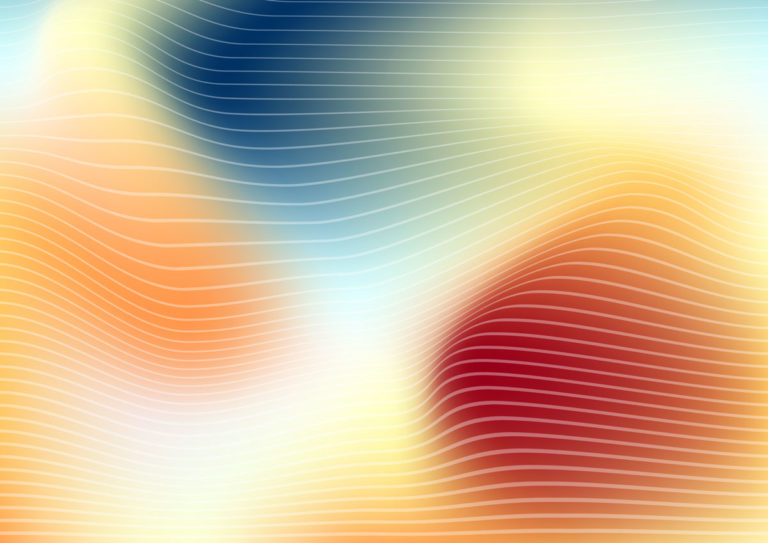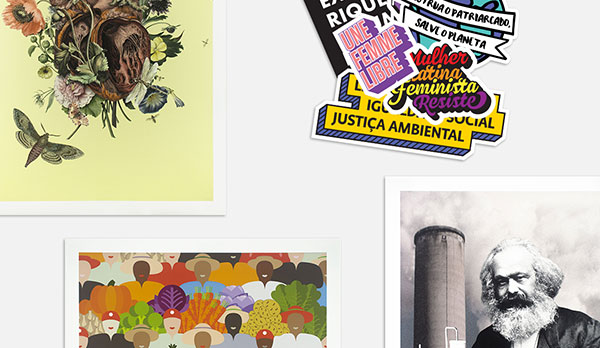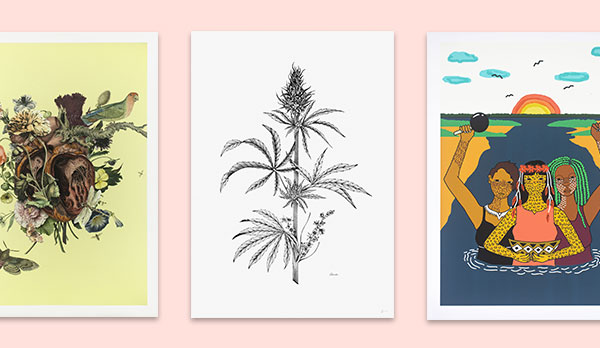Embora uma parte do Brasil ainda não esteja lidando diretamente com o colapso climático, mulheres indígenas no Alto Solimões não têm acesso à água potável enquanto no nordeste do Pará, elas sofrem com as chuvas em excesso, e, no semi-árido Baiano, a seca impossibilitou a colheita de milho esse ano. No território Pancararé, por exemplo, nenhuma espiga foi colhida. Essas dificuldades não são totalmente inéditas. Mas a intensidade e a frequência desses eventos tem sido extremados com as emissões de gases de efeito estufa.
A compreensão de que eventos climáticos atingem grupos sociais distintos de forma e intensidade diferentes cunha o termo justiça climática. Segundo especialistas, casos de injustiça climática se relacionam aos efeitos de processos de desertificação, de aumento do nível do mar, de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, ondas de calor, entre outros – e revela que as pessoas e países mais atingidos são os que menos contribuíram para a mudança do clima.
Olhar para as alterações climáticas no Brasil é também observar as alterações severas causadas na alimentação e modo de vida não só das mulheres indígenas, mas da população originária no geral. Uma vez que a insegurança alimentar entra em jogo, a ansiedade, preocupação e medo são potencializados. Segundo a tese “A Natureza Mudou: Alterações Climáticas e Transformações nos Modos de Vida da População no Baixo Rio Negro, Amazonas”, as comunidades ribeirinhas são “altamente sensíveis a estas transformações, pois os ciclos hidroclimáticos sazonais regem os seus cotidianos, integram os seus modos de vida ao ambiente e determinam a organização dos calendários sociais e agrícolas”.
A psicóloga Jaira Magalhães, integrante da Rede de Apoio à Saúde Mental Indígena (RASMI), reforça a ligação entre bem-estar mental e qualidade de vida da população indígena: “quando a gente conversava com essas pessoas, era possível notar um sofrimento mental aumentado, sobretudo ao perceber como sua luta influenciava às questões relacionadas às pautas ambientais”. Jaira explica que a rede – formada por psicólogos, terapeutas ocupacionais, advogados e cientistas sociais – percebe como as pautas indígenas e ambientais não existem separadamente. “O meio ambiente faz parte desse corpo político indígena. Isso tem impactado a saúde mental deles”, alerta.
Em 2015, uma pesquisa apontou que “alguns impactos já estão sendo percebidos por populações indígenas habitantes do rio Negro, tais como, mudança nos ciclos, variação na intensidade e frequência das enchentes, períodos curtos da estação verão, dificultando a agricultura, elevação da temperatura durante o dia, assoreamento e desmoronamento das margens do rio”. Essas alterações já são descritas, hoje, não só na região do rio Negro, mas também de oeste a nordeste do Pará.
Chuva de mais, chuva de menos
O desmatamento em Alter do Chão, Pará, vem junto com a especulação imobiliária. Jecilaine Borari, presidenta da Associação Iwipurãga, afirma que o turismo local foi “descoberto” há 20 anos mas, apesar de ter vendido a região como “menina dos olhos”, o poder público não investiu em infraestrutura, deixando que empresas e pessoas de fora “começassem de qualquer jeito”. “Compram áreas perto de cabeceiras, próximas dos igarapés, aí eles desmatam”, conta, “a gente tem percebido a diferença, porque a chuva, quando vem, vem muito forte. Tem as enxurradas e devido eles terem tirado toda a mata, acaba causando erosão”. Jecilaine explica que as alterações fazem com que a cor da praia mude de branca para avermelhada, por conta do barro.
Apesar do sol intenso, o nível do rio ainda não baixou, pois os temporais seguem acontecendo. A líder também explica que, por conta do chão assoreado, as árvores que não foram desmatadas estão ficando fracas e caindo. “As pessoas pensam mais no dinheiro, isso que está afetando a nossa vida. Não temos mais uma sombra, é muito calor”, reforça. Já a estudante de psicologia, Regilanne Guajajara, vive na Terra Indígena (TI) Mãe Maria 1 Com mais de setecentos moradores, a T.I. é composta pelos povos Gavião Akrãtikatêjê, Gavião Kyratejê e Gavião Parkatêjê, na região sudeste do Pará, e também relata uma diferença na mudança do clima nos últimos anos. “Ano passado tivemos várias queimadas, devido ao tempo seco. Esse ano, o período do inverno amazônico 2 O período na região Norte e Nordeste é caracterizado pela maior incidência de chuva e acontece de dezembro a maio. chegou bem antes do esperado, agora está chovendo bastante, praticamente todos os dias”, relata ela.
A crise climática, intensificada pelo desmatamento, altera tanto os fluxos de chuva quanto as tradições milenares das culturas indígenas porque festas, rituais e momentos de convivência têm sido prejudicados pelas alterações. “Devido não estarem juntos, muitos começam a ficar tristes e tudo isso desencadeia outras coisas que a gente começa a perceber dentro da comunidade. O povo indígena é um povo que gosta muito de viver em coletivo”, afirma.
A insegurança alimentar como potencializadora

Exponenciada pela crise climática, a insegurança alimentar, que afeta sobretudo mulheres, potencializa o sofrimento mental. Vanda Witoto, liderança indígena e técnica de enfermagem, vive na comunidade Parque das Tribos, em Manaus, e relata sobre o impacto das cheias na produção de alimentos dos povos indígenas. “Quando se tem essa insegurança alimentar, é uma preocupação para quem tem filhos. As pessoas se angustiam de ver toda sua horta no fundo d’água”, ressalta. Há vários quilômetros dali, subindo o rio Solimões, a realidade é outra. A aldeia em que Vanda nasceu, localizada entre Santo Antônio do Içá e Amaturá, está sem água potável.
A liderança explica que, nos últimos três anos, começou a nascer uma praia no meio do rio, que isolou a comunidade e dificulta o acesso à água. “Não é exatamente uma praia com areia, é uma terra com aspecto meio preto, como se fosse lama”, conta, “fizeram um lago, uma represa, para o armazenar água para beber. É uma água extremamente imunda, não corrente”. Ao investigar os motivos do surgimento da terra, Vanda conversou com moradores locais e descobriu que, há 3 anos, houve uma grande exploração de minério ilegal em Amaturá. Depois de descoberto, o local foi desativado. Os moradores acreditam que a terra que hoje isola a aldeia veio de lá pelas chuvas.
Já no outro lado do país, as alterações humanas sobre o meio ambiente se dão de outra forma: através do empobrecimento dos nutrientes da terra e pela seca. Telma Tremembé, artesã, escritora e agricultora familiar, vive cerca de 40 km de Fortaleza. Como agricultora familiar, ela também tem visto a seca atrapalhar no cultivo das culturas, em especial o de plantas medicinais, pois é necessário priorizar a água para o consumo humano. “Essas plantas são sensíveis. Quando você colhe, tem toda uma parte ritualística, de pedir permissão para o uso”, explica, “ a minha compostagem orgânica não dá mais conta da produção, parece que as plantas estão ficando fracas como a terra, que não tem as propriedades necessárias para supri-las”.
As plantas medicinais são importantes em sua aldeia, sobretudo para as mulheres indígenas que fazem o trabalho de cuidado, por se tratarem da prática de uma cultura milenar, mas porque a localidade fica longe da cidade. “Aqui em casa eu tenho o boldo miúdo. Como a aldeia é longe, muitas pessoas utilizam. Eu plantei o boldo na minha cerca, para caso meus vizinhos queiram pegar. É um pensamento coletivo”, ressalta. Telma também relata o surgimento de novas pragas na região, como uma praga que apareceu no caju, fruta muito cultivada no Ceará. “Ela dá na folha, faz um furinho e come toda a castanha por dentro. Isso prejudicou a safra em 60%”, relembra, “eles [os compradores] disseram que comprariam a castanha porque a casca dela é utilizada para fazer combustível, mas foi com um preço bem baixo”.
A produção no território Pancararé também fica castigada pela seca. Patricia Atikum, Co-coordenadora do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba), conta que a vivência no território de Caatinga fez com que a população soubesse os melhores terrenos para plantar mandioca, feijão, milho. Mas, com a seca, nem todo ano é ano de colheita. “Nós retiramos da Natureza os frutos nativos: umbu, caju, murici”, enumera, “são frutos que sabemos que todo ano tem naquela época. Quando chove, tem abundância, quando chove pouco, tem pouco fruto”. A seca faz com que, mesmo em ano de chuva, a comunidade fique apreensiva e guarde as sementes, pois não sabe como será o próximo.
Em 2020, Patrícia conta que não conseguiram colher milho em junho. “As mudanças climáticas têm dificultado muito a vida de todo mundo. Por ser um terreno difícil e sem chuva, fica mais complicado pra gente tirar da nossa terra formas e condições para sobreviver. A gente planta e perde aquele grão”, afirma. Essas incertezas geram ansiedade e tristeza para a comunidade, sobretudo para as mulheres indígenas que lidam com a agricultura de subsistência, já que deve-se considerar também que o alimento não serve apenas para alimentação dos indígenas, mas também para seus animais.
A psicóloga vem acompanhando o aumento da demanda na rede, que é mantida por trabalho voluntário. “Nós estamos trabalhando com uma fila de espera. Temos um grupo grande, mas não conseguimos suprir a demanda. Isso sinaliza quanto a saúde mental dos povos da floresta está impactada por essas questões”, sinaliza. O intuito da rede é levar a psicologia para os 305 povos indígenas do Brasil. Jaira relata que a psicologia é uma ciência que ainda não conseguiu chegar a todas as pessoas e, quando se fala em povos indígenas, existe uma necessidade de adaptar a ciência para sua realidade singular. “A gente sabe que desde sempre eles são povos violentados. Não existe até hoje uma psicologia destinada a compreender as particularidades das pessoas indígenas”, explica.







Ações públicas necessárias
Jaira aponta a falta de política de defesa para os biomas e os povos tradicionais, restando apenas “pessoas de defesa”, o que ela considera serem os povos indígenas. “Ainda que em um primeiro momento eles não consigam identificar que esse sofrimento mental está relacionado a sua própria luta, mais para frente, eles adoecem”, afirma, “no momento político em que vivemos não é possível ver uma saída que amenize essas questões”. Vanda acredita que, apesar de existirem muitas discussões sobre o meio ambiente, as pessoas não têm uma real preocupação para mudança de comportamento diante de tudo que está acontecendo, “fazendo uma frente para a defesa da floresta, dos povos indígenas, são pouquíssimas pessoas”.
Ela retoma uma fala de seus ancestrais, lembrando que ao mexer na terra, no minério, se cria um desequilíbrio total. “Vai trazer grandes doenças”, conta, “tem sido levado para dentro das aldeias através do peixe contaminado por mercúrio. As pessoas estão distantes disso, acham que podem comprar sua fuga para Marte”. Preocupada com a situação de sua aldeia e das mulheres indígenas Vanda afirma que o poder público tem que estar presente nos interiores. Ela discute sobre a ironia da falta de água na Amazônia: no estado que tem a maior bacia hidrográfica de água potável do mundo, “a gente tem na nossa comunidade pessoas tomando quase lama”. A liderança relembra o sistema de cisternas criado no Nordeste que garante água para regiões áridas como um exemplo de solução.
Já Telma destaca a importância da educação acerca dos povos originários e para as mulheres indígenas. “Nós temos a lei nº 11.645, que é onde deve ser implementada a cultura indígena nas escolas. As pessoas têm o direito desse conhecimento, é um conhecimento próximo da Natureza”, afirma. A agricultora também cita o Marco Temporal, no qual, se aprovado, significará um prejuízo para toda a humanidade, não só para os povos indígenas. “Nós não estamos pedindo terras para botar empresas e gerar lucro”, reforça, “estamos pedindo nossas terras para plantar, utilizar e praticar os nossos sagrados”. O direito à terra é visto pelos indígenas não só como necessário para a sobrevivência atual, mas também para o bem das gerações futuras.
Nós não estamos pedindo terras para botar empresas e gerar lucro, estamos pedindo nossas terras para plantar, utilizar e praticar os nossos sagrados.
Telma Tremembé
Patricia chama a atenção para a atitude do governo que “fala muito que o indígena gosta de receber cesta básica”, mas aponta que, para o pai de família chegar a esse ponto, ele já está em uma pobreza extrema. A liderança cita os editais feitos pelo governo que são incompatíveis com a vivência indígena. “Eles colocam muito dinheiro, mas a burocracia desses editais não deixa com que as associações indígenas cheguem ao recurso”, conta, “eles pedem coisas sem lógica, não entendem a particularidade dos povos indígenas. A gente precisa que eles tenham um olhar voltado para a necessidade de cada comunidade”, expõe.
Regilanne reforça que sua maior ambição é a conscientização das pessoas sobre a questão do desmatamento. “O nosso pensamento é sempre de preservar, porque é da mata que a gente tira nosso alimento. Com as queimadas, tudo isso é prejudicado”, relata. Segundo o portal TerraBrasilis, o Pará representou mais de 45% da taxa de desmatamento acumulado na Amazônia Legal em 2020. Em 2020, foram quase 5 mil km² – quase o tamanho de Brasília. Para se ter uma comparação do aumento da ação, em 2012, esse valor foi de 1.7 mil km². As terras indígenas merecem uma atenção especial: Apesar de, historicamente, as T.I. concentrarem taxas baixas de desmatamento da floresta – em 2019, foi de 5% do total, em 2020, de 3% – o garimpo e a grilagem tem levados incêndios e desmatamento em níveis recordes para a região.
O estudo de março de 2021 do IPAM aponta que 3% das T.I. da Amazônia responderam a 70% do desmatamento registrado em 2020 e 50% dos focos de calor. Tudo isso em áreas onde o CAR (Cadastro Ambiental Rural) foi registrado entre 2016 e 2020. E detalhe: os registros autodeclarados de imóvel rural foram feitos em T.I., ação não permitida por lei. Todas essas alterações reforçam a crise climática que já sentimos na alimentação, no corpo, nas doenças, nas mudanças forçadas de hábitos culturais. As mulheres indígenas testemunham, saibamos escutá-las: a crise climática já chegou e está afetando material, cultural e mentalmente a população.
Crise Climática e Saúde Mental é a série de matérias do Modefica para o Setembro Amarelo. Acompanhe durante esse mês as ações destinadas a tratar de como as alterações climáticas influenciam nas questões de saúde mental das pessoas, o que tem sido feito acerca do problema e o que ainda precisa ser feito para lidar com a questão.