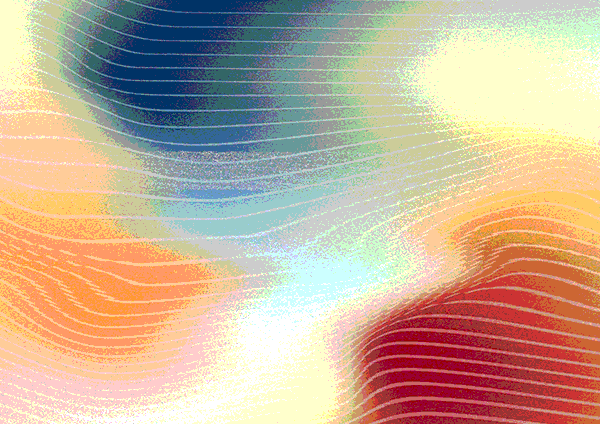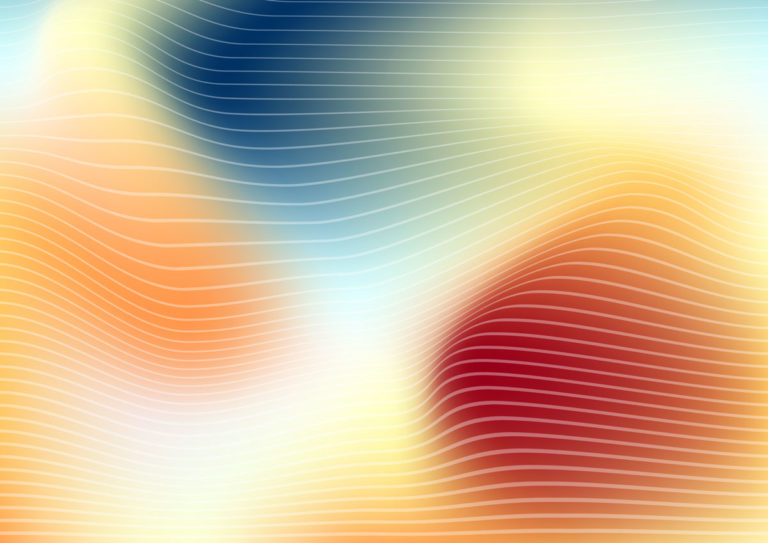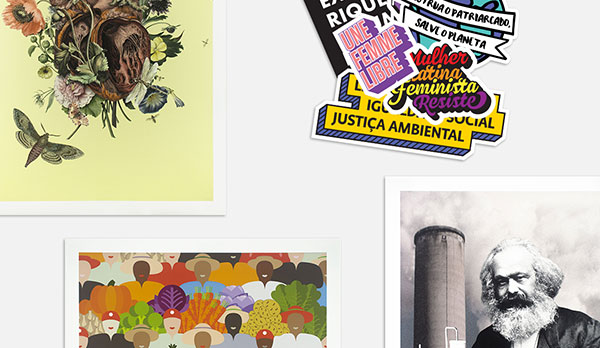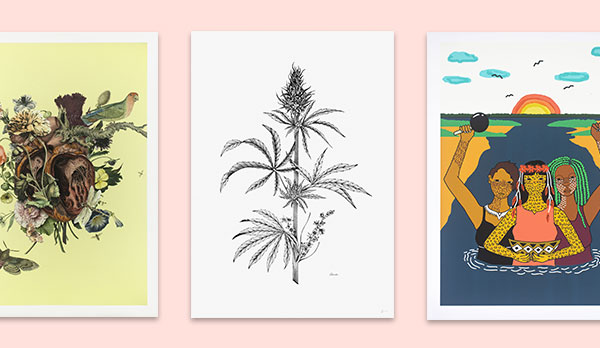O artesanato pode até ser feito pelo homem, mas só é feita a compra se a mulher indígena fizer a venda. Essa é a política da Tecê-Agir, loja de artesanato da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia (AGIR), criada em 2018. Segundo Marciely Ayap Tupari, integrante da associação, a loja foi criada por conta da demanda das mulheres indígenas. Essa é uma das formas de valorizar não só o fazer artesanal, mas gerar renda e autonomia para elas. Os movimentos das mulheres indígenas começam na década de 80 e se fortalecem nos anos 90 e 2000. Hoje, estas mulheres ocupam, em seus territórios e em Brasília, um espaço conquistado através de uma luta contra a misoginia histórica presente nas aldeias e reforçada pela sociedade brasileira.
O processo organizacional indígena provém, basicamente, dos resultados da (não) ação do Estado e das demais sociedades sob os povos e territórios indígenas, mas é importante destacar que, em seu processo organizacional, cada povo reconhece suas necessidades específicas. Logo, para além das necessidades de cada grupo, as mulheres ainda lutam por questões específicas que as atingem enquanto mulheres, como: violência, estupro, bebida, abandono, separação de casais. Como a antropóloga Ângela Sacchi aponta, esses não são pontos que “o movimento maior que vai discutir”.
O movimento das mulheres indígenas não pode ser simplesmente resumido em “feminismo indígena” ou “feminismo pós-colonial”, pois existem tanto aproximações quanto distanciamento de pautas e demandas. A indigenista Juliana Dutra, em seu artigo, afirma que “atentar-se para estas múltiplas narrativas se torna importante, pois estas provocam tensionamentos múltiplos que envolvem não só campos de disputa política por direitos e visibilidade, mas também campos teóricos da antropologia e do feminismo”.
Ângela ressalta que apesar do movimento feminista ter passado a se entender como interseccional nos contextos nos quais este se constrói, isso não levou à criação de uma agenda feminista que abarcasse as necessidades específicas das mulheres indígenas. Apesar de, por exemplo, o reconhecimento dos direitos reprodutivos e a violência contra a mulheres serem demandas compartilhadas por ambos grupos, a experiência cotidiana da mulher indígena, seja na aldeia ou em centros urbanos, segue tendo particularidades. Logo, o processo organizacional de luta das mulheres indígenas evidenciado aqui expressa, com ressalvas, o entendimento dessa manifestação como “feminismo indígena”.
Formação histórica
Segundo o livro Mulheres Indígenas, Direitos e Políticas Públicas, foram duas as primeiras organizações brasileiras exclusivas de mulheres indígenas: a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (Amarn) e a Associação de Mulheres Indígenas do Distrito de Taracuá, Rio Uaupés e Tiguié (Amitrut), ambas na década de 80. A maioria das associações indígenas de mulheres veio, porém, a partir da segunda metade da década de 90. No início dos anos 2000, grandes associações criaram um departamento para tratar das especificidades dessas mulheres, como a Assembleia Ordinária da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN).
Essa movimentação mostra expressivo efeito em 2006, quando, em Brasília, ocorre o I Encontro Nacional de Mulheres Indígenas. Neste evento, ficou decidido focar no fortalecimento do protagonismo da mulher em planejamento e gestão de políticas públicas em três áreas: discriminação e violência; desenvolvimento econômico e saúde. O livro aponta que “a violência familiar e interétnica, o acesso aos meios técnicos e financeiros para a geração de renda, a saúde reprodutiva, a soberania alimentar, a participação das mulheres nas decisões de políticas dos governos, entre outros temas, são inseridos pelas mulheres indígenas no seio do movimento indígena e nos espaços de debate e decisão de políticas públicas”.
As exigências expressadas pelos movimento de mulheres indígenas é de que as políticas públicas passem a ser orientadas por parâmetros que reconheçam as especificidades locais. Anteriormente, a maioria dos projetos (convênios e contratos) que olhava para a questão das mulheres indígenas em algum grau, abordava temas muito gerais, como educação, artesanato. Olhava-se para “a comunidade indígena” e não para “as mulheres indígenas da comunidade”.
Hoje, as organizações de mulheres indígenas apresentam composições distintas: de povos de uma mesma região, como a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro em Manaus (Amarn), ou de um estado, como a AGIR. Pode ser ainda de carácter pluriétnico abarcando diversos estados, como a COIAB e nacional, como a Articulação Nacional Das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA). “A gente se organizou dessa forma, porque nós somos 23 povos indígenas”, explica Clarice Tukano, diretora presidente da Amarn, “essa associação é uma atuação política – atua na reivindicação da política pública dentro do município de Manaus e também no contexto estadual”.
Dentro dos nossos processos históricos mitológicos, o feminino e o masculino sempre brigaram. Na história, o poder das flautas era das mulheres. Então, o homem, com inveja, toma esse poder delas. Por aí, a gente já percebe essa luta de poder dentro da perspectiva da etnia.
Clarice Tukano
Segundo Clarice, a Amarn resguarda um projeto coletivo do Bem Viver 1filosofia que se baseia nos princípios da reciprocidade entre as pessoas, da amizade fraterna, da convivência com outros seres da natureza e do profundo respeito pela terra, um trabalho “de formiguinha”, feito para resistir, reivindicar e socializar ao mesmo tempo. “Quando a gente se organiza, não é somente para nós, indígenas, mas também estamos pensando para além daquele espaço, do chão que a gente pisa”, afirma. A liderança aponta que os povos indígenas são patriarcais, então, quando as mulheres indígenas reivindicam seu espaço, no movimento de criação de associação, elas rompem paradigmas que estão atrelados a um processo histórico.
Clarice explica que, dentro da mitologia do povo Tukano, existe a história do roubo das Flautas Sagradas. “Dentro dos nossos processos históricos mitológicos, o feminino e o masculino sempre brigaram. Na história, o poder das flautas era das mulheres. Então, o homem, com inveja, toma esse poder delas. Por aí, a gente já percebe essa luta de poder dentro da perspectiva da etnia”, narra ela. Com o processo de invasão e colonização do Brasil, a cultura do homem branco apenas acentua a hierarquia sexual patriarcal, enaltecendo ainda mais a figura masculina. “O machismo se perpetua desde os primeiros invasores que chegaram aqui e vai adentrando no processo dessa convivência com os povos indígenas também. O masculino indígena não ficou fora desse processo, e isso fortaleceu o machismo dentro das nossas aldeias”, completa.
Marciely relata que dentro da sua organização, elas trabalham esta questão com outras mulheres indígenas, mesmo sabendo que tratar sobre violência sobre machismo dentro das comunidades é um tabu bem grande. Para ela, é um desejo das mulheres indígenas que os homens de suas aldeias vejam a importância delas nas tomadas de decisão, pois “muitas coisas que nós vemos, não é o que eles sentem na pele”. Ela cita o caso de invasões dentro do território: quem está dentro das comunidades, na maioria das vezes, são as mulheres indígenas, as crianças, os jovens.
Espaço de fala
Em seu artigo, Juliana relata a experiência na 2ª Assembleia de Mulheres Indígenas da Região de Oriximiná, realizada na aldeia Santidade, no rio Cachorro, em maio de 2016. A principal pauta do evento foi a saúde das mulheres e o que mais chamou a atenção da indigenista foi a questão do parto na cidade. “As mulheres declararam que não estavam satisfeitas em serem induzidas a parir na cidade, pois no hospital, os médicos não permitem que elas entrem acompanhadas e não autorizam que o parto seja realizado conforme seus costumes”, afirma em seu texto, “elas ainda denunciaram que nos hospitais corta-se e joga fora, sem autorização das mães, o cordão umbilical, o que não é uma prática desejável para este povo, pois não é compatível com seus rituais e cosmologia”.
Estava presente no evento a representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que explicou que aquela era uma política do distrito, pois as aldeias não tinham nenhuma estrutura para socorrer as parturientes no caso de intercorrências. As mulheres indígenas disseram se sentirem coagidas a aceitar o encaminhamento, pois poderiam ser culpabilizadas, tanto pelos maridos quanto por funcionários da saúde, caso algum imprevisto ocorresse.
As mulheres declararam que não estavam satisfeitas em serem induzidas a parir na cidade, pois no hospital, os médicos não permitem que elas entrem acompanhadas e não autorizam que o parto seja realizado conforme seus costumes.
Juliana Dutra
Ao participar de espaços como a Assembleia no rio Cachorro e de eventos como o Acampamento Terra Livre em 2016 e 2018, Juliana expressa que foi “aprendendo que a violência e o machismo que atingem as mulheres indígenas e as especificidades das desigualdades de gênero vivenciadas por elas, no que diz respeito ao acesso às políticas públicas de saúde, por exemplo, são muito diversos e percebidos de formas diferentes e até divergentes daqueles nomeados pelos movimentos de mulheres de outros contextos e raça/etnias”.
Ângela aponta que, ao retomar este lugar de fala como sujeito de potência, a legitimação étnica acionada no convívio estabelecido com demais sociedades é melhor entendida. Valéria Kaxuyana, co-autora de Mulheres Indígenas, Direitos e Políticas Públicas, recomenda que Estados, sociedade civil e organismos multilaterais ponham em prática programas especiais, com recursos suficientes, para a proteção, defesa e apoio às mulheres e às meninas e meninos indígenas. Em destaque, está a lei Maria da Penha, traduzida para línguas indígenas.
Para Valéria, a desestruturação das sociedades indígenas têm incidido nos elos mais fracos dessa sociedade: as mulheres e as crianças. “Portanto, se no passado a ‘lei dos brancos’ não tinha muito a dizer para o universo indígena, hoje parece ser necessária”, finaliza ela.