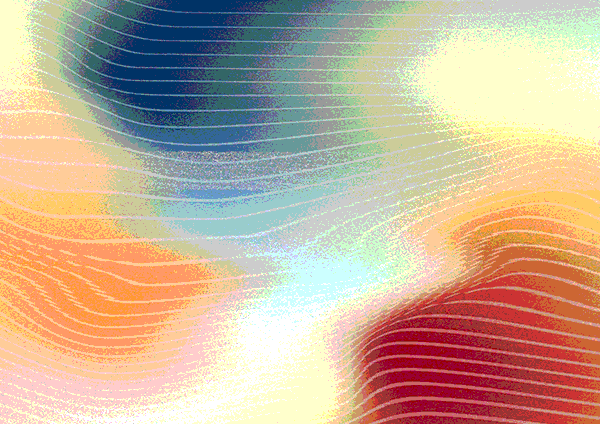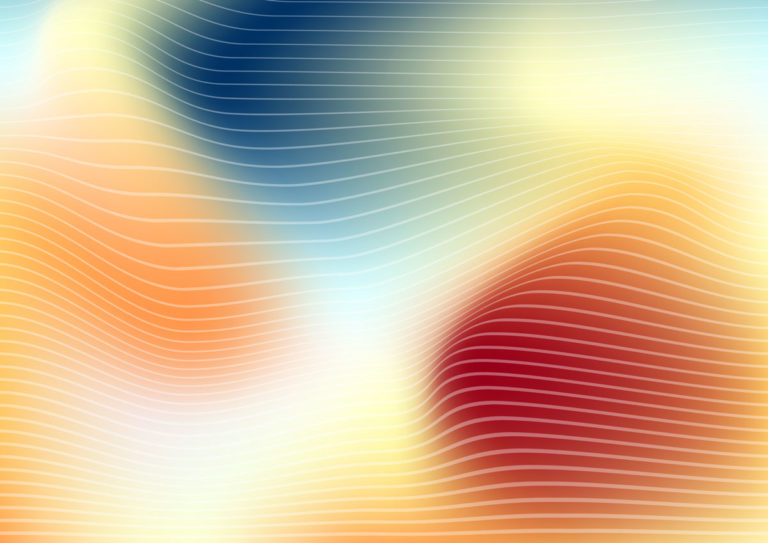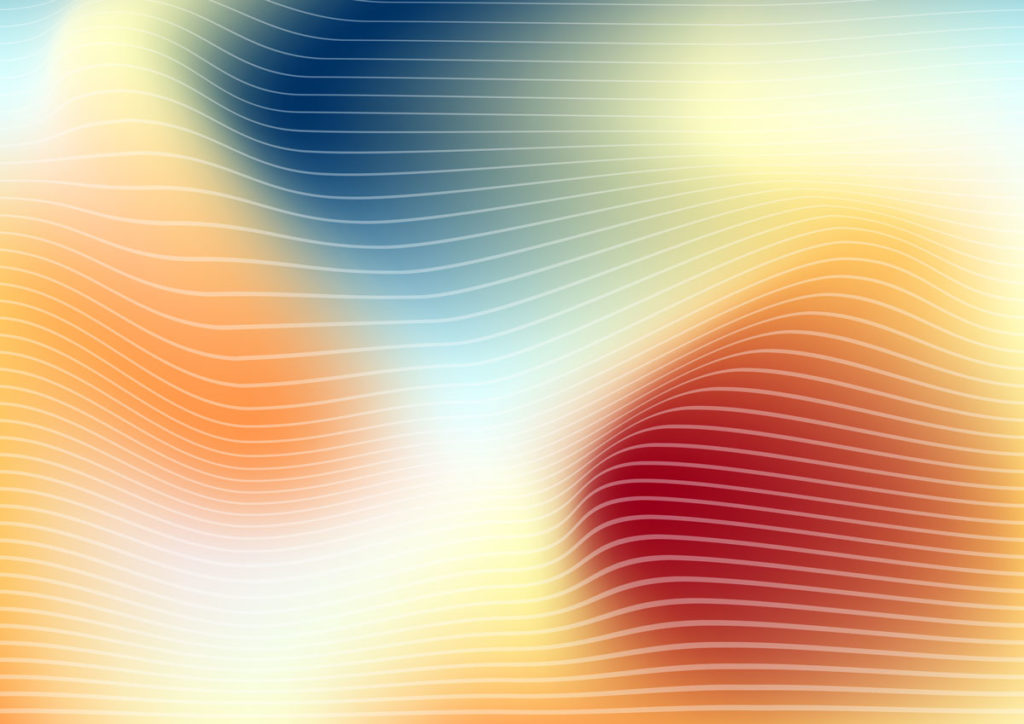Nessa realidade quase distópica, onde nada mais é óbvio sob o sol, o ambientalismo performático aparece como sintoma de uma sociedade engolida pela lógica capitalista, que busca sentido e estratégia por meio da única coisa que lhe foi dada como objetivo de vida: consumir; e pelo único modo de se fazer valer na sociedade do espetáculo: performático. Topei com o termo no texto do S.E. SMITH para a Bitch e encontrei uma segunda versão dele, ecologia-espetáculo, na tese “O Simulacro Ecológico”, do Marques Casara, colunista do Brasil de Fato.
A expressão é praticamente autoexplicativa e surge como a retórica, não negacionista e complacente, do próprio sistema à sua enorme parcela de responsabilidade no colapso climático e ambiental. Afirma-se, de forma eloquente e persuasiva, que a sustentabilidade é impreterível. Porém, na materialidade cotidiana, questões socioambientais estão fora do jogo econômico, de um lado, ou são vaidades pessoais, de outro. Basta se parecer ou se proclamar sustentável, ganhando atenção no campo midiático para sair ganhando. É por isso que o ambientalismo performático é tão bem executado não só por indivíduos, como também por grandes corporações.
É importante notar que esta não é uma crítica a esta ou aquela pessoa. Como ressalta Marx no prefácio da primeira edição do volume 1 de O Capital, não podemos responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. Ao criticar o ambientalismo performático o objetivo é colocar sob escrutínio as estruturas de poder que afastaram as pessoas da esfera pública e as enclausuraram num ambiente privado, destituindo-as de todos os laços comunitários e de todo senso de atuação política, fomentando exclusivamente o mercado como espaço de ação e interação.
Outro ponto importante de salientar é que, de fato, a questão ambiental contemporânea não é assunto fácil. A missão de transformar um sistema que vem se consolidando há séculos é bastante desafiadora, intergeracional e quiçá possível. Sem dúvidas, uma missão muito mais distante para nós, que estamos em cidades que sofrem diretamente pouco ou muito pouco com as crises, do que para os povos das florestas, do campo, das águas e outras comunidades vulnerabilizadas – para quem o fim do mundo chegou há 500 anos. Inegável também é o domínio do economicismo na nossa sociedade e a capacidade indescritível da economia de mercado em transformar qualquer coisa em commodity, até os próprios inimigos.
Fazemos, então, o que parece ser mais coerente para nossa realidade. Dada a conjuntura, é completamente compreensível que as pessoas busquem desesperadamente a lista de marcas e produtos certos para consumir, encabecem discussões intermináveis e tediosas sobre qual a melhor solução para descartar o papel higiênico e a roupa íntima, mostrem orgulhosamente seu (infindável) kit de itens reutilizáveis e chamem atenção publicamente de quem não é tão ambientalmente correto quanto ela.
Essas ações não só geram uma sensação de controle e pró-ativismo frente ao colapso, como também suportam a ideia que, ao fazer isso, habita-se num plano moral elevado, acima de todas as outras pessoas que não estão fazendo nada (ou não estão fazendo as coisas certas) para frear o aquecimento global, a destruição das florestas ou a poluição por plástico. Agarramo-nos ao que podemos para não desmoronar, de canudos de metal a roupas sem graça feitas de plástico reciclado.
A ideia é soberana
Compreendida a psique da questão, é necessário avançar no debate. Um dos problemas do ambientalismo performático é que ele tende a ignorar dados e o real impacto das coisas. Normalmente construído em cima de senso comum ou, como diria a especialista em design Leyla Acaroglu, de folclores ambientais, não há compromisso de análise porque a análise desvenda a complexidade dos sistemas produtivos e da organização sociopolítica e faz cair por terra o pensamento binário de mocinho e vilão, bons produtos versus maus produtos. Descobre-se um universo de variáveis, refutações e desafios indigestos. Parafraseando Krenak, existe, de fato, algo que podemos chamar de sustentável neste sistema predatório? É neste ponto, inclusive, que reside a capacidade de disseminação rápida do ambientalismo performático: na narrativa rasa, imediata e sem compromisso com qualquer complexidade.
Para provar este ponto, basta notar a ausência de dados e fontes confiáveis que comprovem afirmações sobre questões acerca da sustentabilidade. A fonte de ações e novos produtos “sustentáveis” parece ser inesgotável. Sem nenhum comprometimento com estudos de ciclo de vida, olhar sistêmico ou análises necessárias para levantar dados concretos e dar respaldo ao que se afirma, basta usar o sufixo “sustentável” ou “ecológico” para agradar os ouvintes e criar tração de mercado.
Em sua tese, Casara traz um exemplo especial: as empresas que figuram na carteira de investimentos “sustentáveis” da BM&F Bovespa. Na lista estão nomes como a mineradora Vale e a Fibria, que atua no setor de papel e celulose, ambas com histórico de crimes socioambientais. Para entrar na carteira como empresa sustentável da Bovespa basta preencher um formulário.
O mesmo acontece com os produtos “sustentáveis”. Vemos de tudo, do plástico verde a tecidos feitos de milho. Se o plástico verde é produzido por uma empresa atrelada à corrupção política, vem da cana-de-açúcar e esta está para ameaçar ainda mais a Amazônia e o Pantanal, e o milho vem dos latifúndios do agronegócio que tanto ameaçam a política ambiental do país, não importa, é tudo “renovável” e, por isso, “sustentável”.
Inclusive, o apego a terminologias genéricas e autodeclaradas é marcante dentro do ambientalismo performático: natural, biodegradável, reciclado, reuso, verde, vegano. Pode escolher, tem para todos os gostos e cumprem a mesma função: vender uma ideia, independente dos fatos. Mesmo quando há análises e refutações, o apego à ideia está tão sedimentado que dizer que não há nenhum indício de que estamos, na prática, transitando para um sistema menos devastador é quase uma blasfêmia. Infelizmente o terraplanismo tem várias vertentes.
O ambientalismo performático também não mostra muito apreço pela história. Eu já mencionei Kendra Pierre-Louis uma vez e é sempre válido trazê-la novamente ao debate. No livro Greenwashed: Why We Can’t Buy Our Way to a Green Planet (em tradução livre: Greenwashed: Por que não podemos comprar nosso caminho para um planeta verde), a autora traz alguns exemplos de movimentos passados parecidos com o que estamos vivendo – tecnologias eficientes, febre dos reutilizáveis e do reciclado, guerra ao consumo por meio de um consumo “verde” – e como nada disso foi capaz de realmente transformar as coisas. Não conhecer a história, ou ignorá-la, porém, significa repetir os mesmos erros, ao invés de aprender com eles e transcendê-los.
Você não é livre
Talvez, entre todos os pontos negativos desse movimento ambiental que estamos vendo crescer, o mais perigoso seja o fato dele reforçar crenças fundamentadoras do colapso ambiental que o mesmo diz combater. Durante décadas, o marketing e a publicidade construíram a ideia de que precisamos sempre de alguma coisa diferente para ser feliz, bonita, aceita, bem sucedida, etc. Ao adentrar a psique humana, não só a publicidade criou mercados como sedimentou a ideia de que você é o que você tem e remodelou a vida para o consumo.
O famoso fetiche da mercadoria de Marx se materializa de forma inegável nos produtos que marcam distinções de classe. Mas se materializa também quando o ambientalismo performático diz que “você é o que você veste, então seja ético e sustentável”. Ao invés de negar o fetiche da mercadoria e as estratégias de mercantilização do ser humano, as incorpora num discurso que, no pano de fundo, joga toda a responsabilidade para o indivíduo como se este tivesse algum tipo de poder soberano, pelo consumo, frente às superestruturas sociais.
Ao não conhecer história e o básico da economia política, a ecologia-espetáculo acumula estratégias duvidosas. A outra face do “você é o que você consome” é o “vote com a sua carteira”. O que não só oferece uma solução individualista para um problema coletivo e ignora toda a complexidade do sistema e dos mercados, como também esquece que classe deve ser um fator considerado no debate ambiental.
Como votar com uma carteira esvaziada pela pauperização? A atuação para transformação ficaria, então, fadada nas mãos de uma minoria detentora de algum dinheiro para “votar” com ele. O que não só ignora completamente a fundamental atuação de centenas de comunidades à margem do capitalismo global na luta socioambiental, como também reforça as próprias estruturas de centralização de poder e atuação nas mãos de quem detém algum dinheiro para usá-lo de forma supostamente livre.
Na introdução de Para a Crítica da Economia Política, Marx explica a relação dialética entre produção e consumo: “o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado, que deve ser consumido. […] A produção não produz, pois unicamente o objeto do consumo, mas também o modo de consumo, ou seja, não só objetiva, como subjetivamente. Logo a produção cria o consumidor […] A produção não se limita a fornecer um objeto material à necessidade, fornece ainda uma necessidade ao objeto material. […] Portanto, a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto. A produção engendra, portanto, o consumo: 1 – fornecendo-lhe o material; 2- determinando o modo de consumo; 3 – gerando no consumidor a necessidade de produtos”.
À época da análise, Marx não vislumbrava a indústria da propaganda, as redes sociais, a internet móvel e o mercado de dados que nos expõe a centenas de anúncios e contatos com marcas por dia. Tampouco vislumbrava a que ponto chegaria o monopólio de mercado onde, por exemplo, três empresas controlam 70% da produção de cacau mundial. Livre talvez não seja o melhor adjetivo para caracterizar a atuação consumidora no fim das contas.
No livro Stitched-Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion (em tradução livre: Costurado: O livro anti-capitalista da moda) a autora e jornalista Tansy Hoskins reforça que nós temos poder de ação no nível individual, entretanto, cita Marx para lembrar que “mulheres e homens fazem sua própria história, mas eles não a fazem como bem entendem; eles não a fazem sob circunstâncias auto-selecionadas, mas sob circunstâncias já existentes, dadas e transmitidas do passado”. Acreditar no contrário seria apoiar as ideias fundamentais da meritocracia – em sua versão eco.
É tempo de radicalizar
Ficamos, então, com um mercado sustentável pulsante, bastante amparado por dezenas de pesquisas de mercado e comportamento, de um lado, e pesquisas científicas e estudos mostrando a poluição por plástico, a extinção em massa das espécies, a acidificação dos oceanos, ad infinitum, do outro. O cenário segue exponencialmente desolador e a única saída possível parece ser encontrar a força e o impulso que, reside na desesperança (ou no desespero) para quebrar (e não reforçar) as lógicas de poder.
Se o sucesso do modelo econômico que está destruindo nosso planeta habita na privatização da vida, no fim das noções de comunidade e coletivo e no enclausuramento das pessoas na função de consumidoras para uma produção e acúmulo de capital infinitos, não seria mais eficaz acabar com a ideia de que somos o que temos, restituir laços comunitários, lembrar que nossas subjetividades transpassam o mercado, que os espaços públicos e políticos devem ser feitos e ocupados por todos e para todos, independente da quantidade de dinheiro que temos na nossa conta bancária?
Isso pode parecer radical. E é. Como todas as pessoas radicais por ai, eu gosto de trazer Angela Davis para lembrar que “radicalismo” é enxergar (e resolver) a questão pela raiz. Não é sobre pintar os sintomas de verde enquanto a doença segue existindo, sem tratamento, corroendo o organismo por dentro. Na introdução de A Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire também nos lembra que “a radicalização é sempre criadora, pela criticidade que a alimenta. […] A radicalização é crítica, por isto, libertadora”. O tempo de radicalizar, sem dúvidas, é agora.