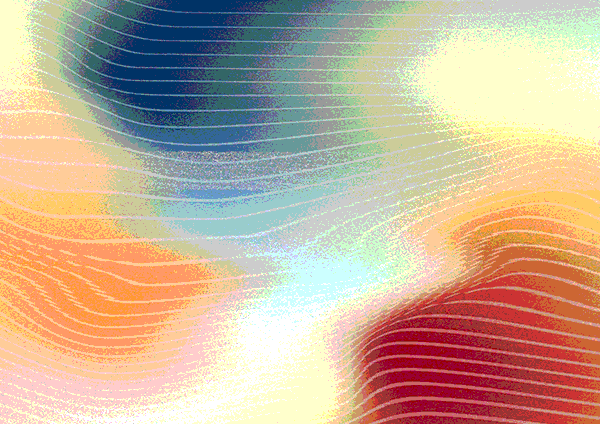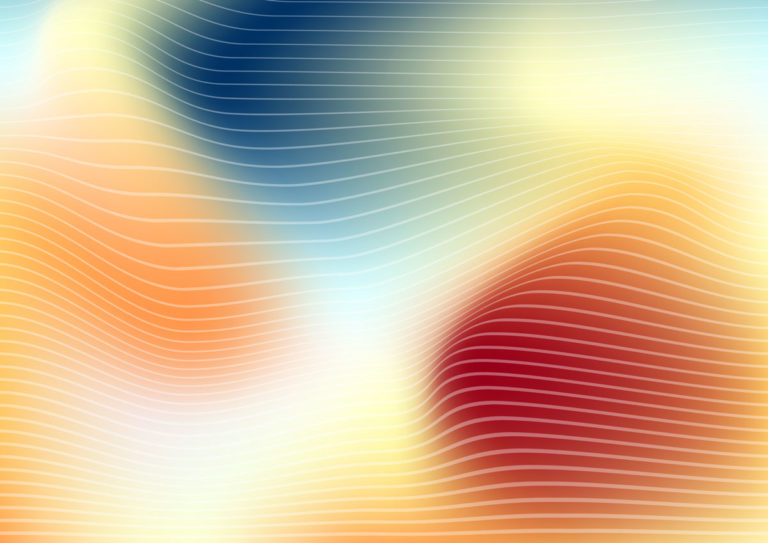No entanto, elas têm uma função fundamental nas propriedades familiares: cuidar da família. Isso inclui a casa, os pequenos animais, a horta — uma parte importante e não remunerada da agricultura, que diz respeito às atividades relacionadas à produção que não é comercializada, e sim consumida pela família. “O trabalho não remunerado e de autoconsumo ocupa 74.9% das mulheres no mundo rural […] 2/3 das mulheres ainda continuam trabalhando para ‘ajudar’ a família”, revela o relatório “Gênero, Agricultura Familiar e Reforma Agrária” no Mercosul do Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2006.
“Não existe nenhuma razão técnica que justifique essa desproporção entre a participação de homens e mulheres na produção de autoconsumo, a não ser o fato de que o trabalho da mulher é visto como uma extensão do seu papel de mãe/esposa/dona-de-casa, provedora das necessidades da família”, destaca o relatório. “E de modo geral este papel se superpõe ao seu trabalho na atividade agropecuária — principalmente na horta e no quintal — encobrindo a verdadeira natureza da sua ocupação […] É nesse sentido que se pode afirmar que o trabalho da mulher, sobretudo na agropecuária, reproduz a invisibilidade que cerca a percepção da sociedade sobre o papel feminino”.
O que os dados revelam é que, assim como a cidade, o campo precisa do feminismo. Mas o feminismo chega até o campo? Nesta quarta matéria da série sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), vamos examinar as relações de gênero e como aparecem no dia a dia do movimento. A partir das constatações de que sem terra não é possível praticar agricultura, que sem a mulher não existe agricultura familiar, e que seu trabalho é prioritariamente não remunerado, como o principal movimento que pauta a redistribuição de terras no Brasil aborda as questões de gênero?
“A divisão sexual do trabalho acontece em toda sociedade, e nos assentamentos não é diferente”, afirma Kelli Mafort, da Coordenação Nacional do MST. “O patriarcado como pilar da sociedade capitalista se reproduz em todos os espaços da vida. As cooperativas e associações do MST estão inseridos nessa realidade; dessa forma, há sim reprodução de relações machistas no seu interior”, completa Atiliana Brunetto, da Direção Nacional do Setor de Gênero do MST.
Mas a linha política do MST é de combate ao machismo e às formas de violência e exploração contra as mulheres, LGBT+ e crianças. Através do trabalho de base com mulheres e homens, e na elaboração de estatutos e regimentos, o movimento pauta a equidade nos espaços produtivos e decisivos. “O combate se dá em diversas esferas, que vão desde as normas gerais do MST, passando pelas linhas políticas dos setores, e regimentos e acordos de convivência das áreas, das cooperativas, associações e instâncias”, explica Atiliana.
Feminismo Camponês Popular

De acordo com as dirigentes entrevistadas para essa matéria, não existe um movimento formal de mulheres dentro do MST — que se espalha pelo Brasil todo em um mosaico de territórios, culturas e situações sócio-econômicas bastante diversas. Mas Atiliana conta que há, sim, coletivos de mulheres campesinas organizados pautando a superação do patriarcado, racismo e capitalismo, com o objetivo de construir um movimento misto. Apesar desse arranjo não configurar um movimento de mulheres no senso estrito, ele denota uma centralidade na pauta do feminismo e gênero na luta pela Reforma Agrária Popular que o MST constrói.
Na prática, em cada ambiente as questões de gênero aparecem, e são tratadas, de modos diferentes. Nos acampamentos e assentamentos, muitas vezes a mulher se vê confinada ao papel tradicional: a dona de casa. Maria, que mora no assentamento Sepé Tiaraju, em Ribeirão Preto (SP), conta que trabalhava na cidade como doméstica. Foi demitida e agora fica em casa cuidando dos afazeres, da horta e dos bichos, enquanto o marido está na roça: o tal trabalho não remunerado de autoconsumo descrito acima. Feminismo, para Maria, é uma palavra sem muito uso — assim como é distante a ideia de que tal coisa tenha relação com sua vida diária.
Não são todas as mulheres que integram o MST nos diversos espaços e instâncias que se reconhecem feministas, até mesmo por falta de compreensão de uma parte da base social do movimento sobre o que de fato é feminismo. “O feminismo, no entanto, está na base da formação política do movimento com iniciativas feministas, principalmente vinculadas ao processo de formação, que vão desde cursos de aprofundamento teóricos voltados paras as mulheres – como o curso Feminismo e Marxismo — a espaços construídos na perspectiva da formação dos homens, como a noite Antipatriarcal, perpassando desde as instâncias políticas até a base”, destaca Atiliana.
O feminismo é uma ferramenta de transformação das relações sociais – e essas transformações se processam na materialidade da vida cotidiana. Sendo assim, o movimento reconhece as diferenças conforme os espaços onde cada uma está inserida e busca considerar essas especificidades na atuação e tomadas de decisão. O resultado do trabalho de formação, conscientização e ação prática pode ser ilustrado por situações muito diferentes observadas no mesmo assentamento em que vive Maria, com mulheres que são protagonistas da produção agrária — proprietárias dos lotes, produtoras e decisoras de suas próprias vidas — como Hilda e Neide, ambas ativamente responsáveis pela produção.
Em 1985, aconteceu a primeira Assembleia das Mulheres Sem Terra no I Congresso Nacional do MST. “A organização ocorria de forma germinal desde a base e não tinha uma articulação geral”, lembra Kelli. Mas, aos poucos, as mulheres foram realizando encontros específicos e aprofundando os estudos sobre gênero, classe e relações de poder. “Depois vieram as primeiras áreas conquistadas e com elas o debate sobre cooperação nas diferentes esferas da vida familiar e coletiva. Nos novos assentamentos, que surgiam na década de 90, questões como a divisão sexual do trabalho e a responsabilidade sobre o trabalho doméstico se apresentaram com força, na forma de um bom e necessário conflito que gerou cirandas infantis de cuidados coletivos com as crianças, cozinhas comunitárias e várias mulheres nas lideranças de cooperativas”, detalha.
O Setor de Gênero do MST foi criado no ano 2000, quando estabeleceu as diretrizes políticas para toda organização — como direito conjunto da titularidade da terra para as mulheres e os homens, e garantia de 50% nos cursos de formação e nas instâncias de base. Ao longo dessa trajetória, o setor foi construindo, com a Via Campesina, o Feminismo Camponês Popular, responsável por demarcar uma posição política de gênero e classe a partir da realidade das mulheres do campo.
A Luta é das Mulheres

Como participantes ativas da produção e reprodutoras e cuidadoras da vida — nas casas, nos lotes, nos campos, nos quintais, nas cozinhas, nas agroindústrias — as mulheres são uma grande força dentro do Movimento. É possível fazer um paralelo entre estas mulheres e a fala da escritora Silvia Federici, autora reconhecida por debater o papel das mulheres na sociedade patriarcal capitalista: “são as mulheres que realmente estão na vanguarda da defesa comunitária e dos bens comuns, particularmente em termos de terras, florestas e águas”.
Em março de 2018, durante as Jornadas Nacionais de Luta das Mulheres pela Reforma Agrária, que acontecem todo o ano desde a fundação do MST e têm caráter denunciativo, foram várias as manifestações de diversos grupos de mulheres espalhados pelo Brasil em defesa do direito à terra e à proteção das condições de vida. No Rio Grande do Norte, as mulheres ocuparam o Porto de Natal com o objetivo de denunciar o agronegócio que, ressaltaram elas à época, sistematicamente se apropria e viola os territórios e a água dos povos do campo e das florestas para produzir e exportar commodities.
Na mesma época, foram elas que ocuparam a sede da Nestlé, em São Lourenço (MG), num movimento para alertar a população, e se posicionar contra, as negociações entre Michel Temer e Paul Bulcke, presidente da Nestlé, para exploração do Aquífero Guarani. Em Imperatriz (MA), 300 mulheres da região Amazônica reuniram-se nas proximidades da estrada que dá acesso à fábrica da Suzano Papel e Celulose, para denunciar o processo de privatização, expropriação e utilização exploratória dos recursos. Um movimento similar, contra as práticas da mesma empresa, aconteceu em Mucuri (BA).
Marcadas pelo Dia Internacional da Mulher, o 08 de março, as jornadas começaram pautando direitos históricos, como o salário maternidade, a previdência rural, o acesso à educação pelas mulheres, assim como o acesso à terra. Em 2006, houve uma mudança estratégica e as jornadas assumiram um caráter de enfrentamento ao capital no campo, muito bem representado pelo agronegócio e mineração. Desde então, as ações seguem mobilizando milhares de mulheres pelo país.
Em novembro de 2019 acontecerá o I Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra, em Brasília. O trabalho não para. “É necessário um processo permanente de zelo para efetivar as mudanças no cotidiano, e também para que neste momento histórico os retrocessos sociais que temos vivenciados não se reproduzam internamente”, finaliza Atiliana.
As mulheres e a terra
O assentamento Sepé Tiaraju está localizado entre os municípios de Serrana e Serra Azul, perto de Ribeirão Preto, noroeste do estado de São Paulo — região de monocultura de cana de açúcar. As terras onde hoje está o assentamento pertenciam a Usina Nova União. Em 2004, 797 hectares foram adquiridos pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o assentamento foi oficialmente estabelecido (após anos de ocupação, em que as pessoas acampavam em barracos de lona preta). O Sepé Tiaraju é o primeiro assentamento a ter recebido o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) no estado de São Paulo.
Desde a origem do assentamento, os agricultores recebem acompanhamento da equipe de agroecologia da Embrapa Meio Ambiente (de Jaguariúna, SP) para a implementação de sistemas agroflorestais (SAFs). O solo, degradado por anos de monocultivo de cana de açúcar, responde bem ao tratamento agroecológico, com muita matéria orgânica e biomassa, o que permite o policultivo em sistema de consórcio (na prática, se plantam várias espécies juntas). Estive no assentamento Sepé Tiaraju no início de setembro de 2019 e conversei com algumas das agricultoras assentadas.
Neide Aparecida Nunes Félix, 58 anos

“Eles tratavam a gente como se a gente fosse invasor baderneiro. Falavam ‘olha o bando de vagabundo lá’. Hoje eles comem o que a gente planta”. “Eles” são os habitantes das cidades próximas ao assentamento Sepé Tiarajú. Quem conta a história, com orgulho na voz, é Neide Aparecida Nunes Félix, agricultora. Neide nasceu no Paraná, de família de agricultores. Vieram para São Paulo em busca de trabalho. Aos 15 anos ela começou a cortar cana em uma usina da região. Chegou no Sepé Tiaraju em 2002, quando ainda era um acampamento de lona preta.
Neide era casada quando ela e o marido conseguiram um benefício do Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar) para terminar a casa e começar o cultivo. “Mas ele bebia e destruiu o Pronaf. Comprou carro velho, pagava conta de bar…”. Quando o marido morreu, Neide conseguiu passar a titulação da terra para o seu nome e pegou outro financiamento — dessa vez, gasto com sabedoria. Hoje, mostra orgulhosa as linhas de agrofloresta nos fundos da sua casa: abacaxi, mandioca, banana. Cuida de tudo com a ajuda dos dois filhos adultos. Mas quem manda é ela. Não quer mais saber de homem. “Até dei uma namoradinha, mas aí eles começam a querer mandar…”.
Sandra Aparecida Ferreira, 37 anos

Sandra morava em outro assentamento, em Ribeirão Verde, com o marido. Separou-se e fez uma permuta para ficar perto da família, que já morava no Sepé Tiaraju. A família vivia de colher algodão, cortar cana — eram empregados da agricultura patronal. Mas Sandra viveu por vinte anos na cidade, e teve que re-aprender como ser agricultora. Está há oito anos no Sepé Tiaraju. Vive com as duas filhas, uma de 13 e outra de três, que teve com um segundo marido, do qual também se separou. É monitora do ônibus escolar do assentamento, e cultiva banana, mandioca e frutas em sistema agroflorestal. Está aprendendo com o pessoal da Embrapa a manejar roçadeira e motosserra. “Já manejo bem. Para aliviar na enxada, porque judia um pouco. A mão de obra na agricultura não é fácil, é brutal”.
Anos atrás o machismo tomava conta, diz Sandra. “Hoje em dia tá mudando um pouco, porque muitas mulheres tão pegando firme, você vê muita agricultora forte, pegando em maquinário. Mas ainda tem esse lado do preconceito do homem com a mulher, principalmente no campo ou manejando coisas que eles acham que só eles podem”. Mas Sandra continua o corre em busca de independência. “Tem que cada dia fazer um pouco”.
Hilda Meira dos Santos Canile, 70 anos

Dona Hilda é considerada por muitos a “musa” do Sepé. Uma senhorinha simpática que encanta com sua hospitalidade e sai ensinando para as pessoas tudo sobre as ervas e aromáticas plantadas no seu quintal. Ela nasceu no Paraná e a família também plantava: “Minha família era da roça, plantava café. E a geada queimava”. Foi morar em Ribeirão Preto, casou. Um dia, passou o carro de som convidando o povo para ir lutar por seus direitos ocupando uma fazenda em Uberlândia. Foram, ela e o marido Ivo. A filha, que estava grávida e trabalhava em um hospital, ficou. Ela voltou para Ribeirão quando a neta nasceu; seu Ivo ficou em Uberlândia por três anos. Dona Hilda cuidava da neta e trabalhava lavando roupa quando soube de outra ocupação, na região de Ribeirão Preto mesmo. Seu Ivo voltou de Uberlândia. “Foi a terra que salvou nossa vida. Plantamos uma carreira de banana de 300 metros, e mandioca, abóbora, uva, couve. Que fartura!”, conta ela.
A neta hoje tem 19 anos e mora na cidade com a filha. As duas vêm visitar nos finais de semana. Um dia, diz a filha, vão morar lá de vez. Sabem que quem tem terra tem comida. Dona Hilda cuida do lote inteiro só com o marido. Eles têm horta e agrofloresta, além de criação de galinhas e abelhas (e cachorrinhos muito fofos). “O carro forte é banana e mandioca”. Estão vendendo para o CSA (Comunidade que Sustenta a Agricultura), e estão muito alegres com isso. Cultivam quase tudo que comem e quase não precisam comprar nada fora.
Nos outros textos da série terra com t minúsculo: MST e sustentabilidade nós vamos vamos sobre outras possibilidades de cultivo e manejo da terra, como agroecologia e agrofloresta, utilizadas pelos trabalhadores rurais nos assentamentos; a relação entre algodão orgânico e o o MST; e as mulheres do movimento que estão unindo a luta pela terra com o movimento da libertação das mulheres. Confira a série completa aqui.