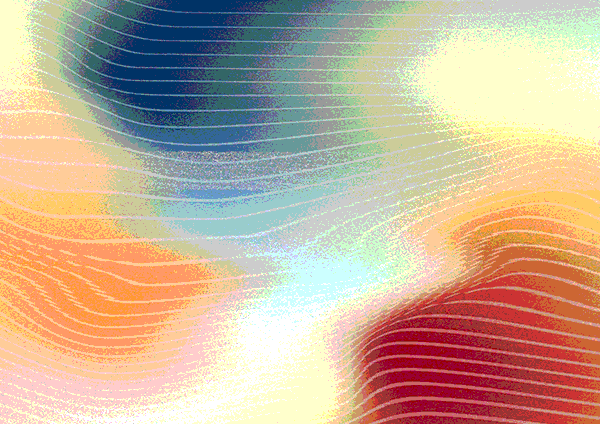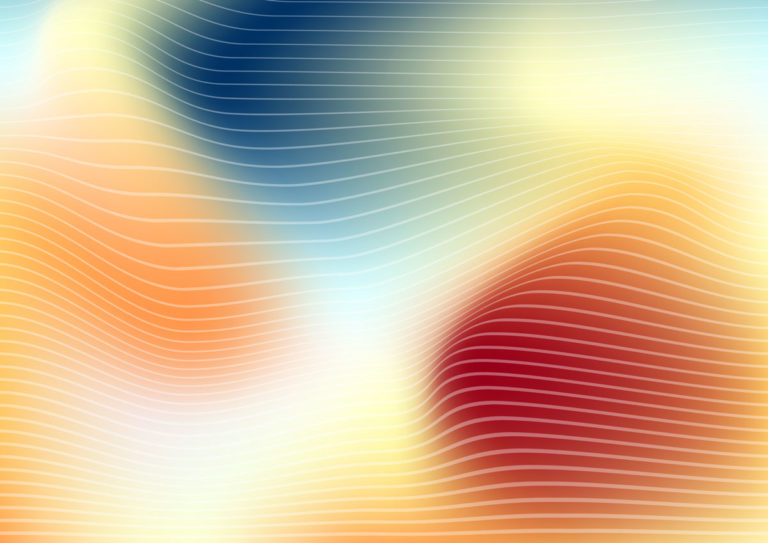Sabemos que os efeitos da pandemia de Covid-19 e a crise climática têm um impacto desproporcional nas pessoas que vivem na pobreza e ambas estão aumentando as desigualdades. Sabemos também que é necessário nos pôr em movimento, sem esperar que tomadores de decisão privilegiados hajam por nós. Mas por onde começar?
A primeira a compartilhar sua história é Betty Barkha, das Ilhas Fiji. Betty conta porque decidiu se tornar uma ativista e como a crise climática é uma realidade já vivida pelos povos do Pacífico. A temporada de ciclone a cada ano se torna mais forte, de tal modo que não existem mais “casas a prova de ciclone” para eles. Os cortes de energia, as pontes inundadas e as campanhas de limpeza são parte do cotidiano.
Betty também explica sobre como o patriarcado exerce uma força de silenciamento nas mulheres e jovens da região. Como, assim como aqui, durante o isolamento social, muitas mulheres foram forçadas a ficarem em casa com seus agressores e como o cuidado a carga de cuidados com a família aumentou. Ainda falando sobre opressão, Betty conta como os desafios são diferentes para a população LGBTQI+, como, por exemplo, terem a entrada negada em centros de evacuação que são igrejas. Mas a ativista aponta que as comunidades tem se fortalecido e que as mulheres, em especial, tem assumido a liderança em momentos de crise. É por isso que Betty defende que “não há justiça climática sem justiça de gênero e vice-versa”.
O segundo depoimento é de Hindou Ibrahim, ativista da comunidade indígena Mbororo, no Chade. A ativista luta pelos direitos dos povos indígenas e pela proteção do meio ambiente – lutas que ela afirma serem impossíveis de não andarem juntas. Na região onde mora, a crise climática é sentida na diminuição das chuvas, seguidas de secas e chuvas intensas. Sendo de um povo que tem a agricultura como base econômica e cultural, Hindou explica como essas mudanças afetaram o modo de vida de seus familiares e os seus próprios. A ativista nota a diminuição de espécies de animais, assim como do lago Chade: “o Lago costumava ter 25.000 km² de água doce, em 1960. Em 1980, ele tinha tinha 10.000 km². Agora, ele tem 2.000 km² de água. Da geração da minha mãe a mim, de mim até agora, 90% dessa água evaporou”.
O lago gera recursos para cerca de 40 milhões de pessoas e, com a escassez, o cenário se torna um de conflitos de terra. “Eles estão lutando por um pedaço de terra fértil, e os mais poderosos conseguem essa terra antes dos mais vulneráveis”, explica, “aí vem a questão da injustiça, desigualdade e iniquidade. Hindou aponta como é necessário reconhecer o conhecimento tradicional dos povos indígenas de viver em harmonia com a Natureza. Ela salienta que os governos de todo mundo devem respeitar os direitos dos povos indígenas e o conhecimento milenar dos povos indígenas é “crucial para nos ajudar a encontrar soluções climáticas”.
A terceira entrevistada é Maggie Mapondera, ativista-comunicadora-facilitadora do Zimbábue. Maggie conta a importância de se entender como uma mulher negra do Sul Global, reconhecer as diversas formas entrelaçadas de opressão, para então começar a destruí-las. A ativista também cita o feminismo como ferramenta para se conectar com outras mulheres e reconhecer que, não importa onde vivam, existe um sistema que oprime de maneiras específicas.
Maggie aponta como o sistema é cruel e como a crise climática é real para muitas comunidades. “As comunidades em Mpumalanga, na África do Sul, te dirão ‘não podemos respirar’, por causa dos níveis de poluição das usinas movidas a carvão. Comunidades no Zimbábue estão encarando níveis enormes de violência na mina de diamante altamente militarizada no leste”, exemplifica. Pelas mulheres destas regiões já viverem a crise climática, Maggie sente a necessidade de trazer voz a elas. “Sempre foi um desafio para as vozes das mulheres negras serem ouvidas. Essa injustiça deve ser entendida, para que
possamos começar a erguer essas vozes e apoiar aquelas mulheres para que possam
falar”, explica.
Partindo da tradição do Zimbábue de se reunir ao lado de uma fogueira para conversar, Maggie aposta na criação de espaços e abordagens feministas para que mulheres se conectem umas às outras. “É uma coisa muito radical e poderosa. Construir espaços onde as pessoas possam cuidar de si mesmas e umas das outras”, expressa.
A quarta entrevistada é Meera Ghani, feminista anti-racista, anti-capitalista e abolicionista do Paquistão. Meera explica sobre a degradação ambiental que acontece em seu país natal e como os resultados desses impactos tornam a população vulnerável. Ela liga a violência presente nas situações políticas com as injustiças climáticas: “eles têm as mesmas raízes: a supremacia branca, o patriarcado capitalista cisgênero e hetero”. Ela aponta o cuidado como antídoto para sistemas de violência e afirma que seu papel no movimento é chamar atenção para a promoção de uma cultura de cuidado.
Em termos de política, a ativista conta que essa cultura se reflete em se livrar de instituições que ameaçam a vida das pessoas e do planeta. O decrescimento das economias do norte, o reinvestimento em comunidades e organizações que afirmam a vida, a redistribuição de riqueza e recursos de forma mas igual são alguns dos exemplos mencionados. Meera aponta a importância da interseccionalidade nas tomadas destas decisões, pois ao centrar em comunidades mais marginalizadas, será possível cuidar delas primeiro.
Em sua fala, Meera também chama atenção sobre como os impactos da Covid-19 evidenciaram as solicitações que grupos de justiça para deficientes têm feito, como o trabalho remoto. Ela reforça: “temos muito que aprender com os líderes indígenas, mas também com as comunidades negras, trans e queer. Porque eles têm praticado o cuidado com a comunidade como nenhum outro, desde sempre”.
A quinta ativista feminista é Majandra Acha, que também se identifica como ativista queer e da justiça climática e é de Lima, Peru. O ativismo de Majandra se concentra em gênero, interseccionalidade, capitalismo, ativismo juvenil e meio ambiente. Ela inicia seu relato apontando os conflitos de terra entre governo e indígenas, que resultou em um conflito onde mais de 30 pessoas morreram. Ao participar de um protesto contra o massacre, ela percebeu como era improvável que fosse assassinada no evento, mas como os povos indígenas foram mortos. “Não se pode separar a questão da violência contra as comunidades indígenas do desaparecimento da floresta tropical”, afirma.
Majandra encontrou seu lugar na luta ecofeminista. A ativista conta sobre as experiências com o patriarcado e como a exploração da terra, que é vista de forma feminilizada na tradição peruana, reforça muito o domínio e poder do homem e a exploração sobre o feminino. Para ela, a interseccionalidade é a chave: “não consigo separar o fato de ser mulher do fato de ser de classe média ou do fato de ter feito faculdade, falar inglês”, explica. Assim sendo, é necessário fazer uma análise sistêmica da crise que vivemos, afinal, a crise crise climática é uma expressão dessa crise maior. Ao abordar os diferentes aspectos que compõem essa crise, que passam pelo sistema político, pela economia e crenças culturais, será possível transicionar para um sistema mais justo.